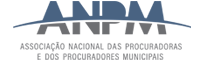Por: Thiago Resende Lima Castro e Barbosa,
Procurador do Município de Varginha
A coisa julgada em nosso ordenamento jurídico sempre foi tratada pelos estudiosos do direito, em especial os constitucionalistas e os processualistas, como um dos principais fenômenos jurídicos de estabilização de conflitos e de pacificação social.
Afinal, não há paz social sem que haja a solução definitiva de conflitos num prazo razoável de tempo.
Tanto isso é verdade que o Constituinte de 1988, reproduzindo o art. 150, §3º, da Constituição de 1967, manteve a coisa julgada no seleto grupo dos direitos e garantias fundamentais, conforme se depreende do inciso XXXVI do art. 5º do Capítulo I do Título II da Constituição Cidadã. Confira-se:
“TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;” (g.n)
Até mesmo antes da promulgação da Constituição de 88, o art. 6º, do Decreto-Lei n.º 4.657/1942, já ressalvava a coisa julgada dos efeitos de eventual lei nova, conceituando o referido instituto em seu §3º como sendo “a decisão judicial de que já não caiba recurso”.
O Código Fux, apesar de não se distanciar do conceito tradicional de coisa julgada, entendeu por bem atualizar aquele trazido pelo revogado CPC de 1973 que denominava a “coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.”
O legislador ordinário do CPC de 2015, em verdade, optou por substituir o vocábulo “eficácia” por “autoridade”, bem como suprimir a especificação dos recursos trazidos pelo artigo 467 do revogado CPC de 1973 para fins de conceituação da coisa julgada.
Para a novel legislação, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, nos termos do art. 502.
Embora não se negue que o conceito de coisa julgada possa mesmo se relacionar ao plano da eficácia, que nos termos da doutrina civilista é onde “(...) estão os efeitos gerados pelo negócio em relação em relação às partes e em relação a terceiros, ou seja, as suas consequências jurídicas e práticas”, aos olhos da doutrina de direito processual civil, a “(...) substituição do termo “eficácia” por “autoridade” busca deixar clara a distinção entre coisa julgada e efeitos da decisão.”
De fato, parece ser no plano da eficácia que a coisa julgada encontra seu ápice, pois a sua principal consequência jurídica e prática é justamente a estabilização das relações controvertidas, isto é, a busca da paz social.
Porém, a eficácia apontada no texto do art. 467 do revogado CPC se mostrava uma redundância que pouco contribuía para o conceito de coisa julgada.
Isso porque é a autoridade da coisa julgada material em si, isto é, o efeito paralisante de que dela decorre, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Também por isso, houve a substituição do termo “sentença” (espécie) por “decisão de mérito” (gênero), o que se afigura correto, considerando-se que não só a primeira estaria apta a transitar em julgado e produzir coisa julgada material, mas, outrossim, as decisões monocráticas finais de relator e acórdãos de tribunal.
Mas não para por aí. O referido dispositivo legal reconhece, ao menos em tese, a existência de decisões interlocutórias de mérito com claro intuito de gerar coisa julgada material.
E, embora não seja este o propósito do presente artigo, vale a pena distinguir a coisa julgada formal da coisa julgada material. Pela didática do posicionamento, peço venia para transcrever as lições do já citado autor Daniel Assumpção a respeito, senão vejamos:
“Esse impedimento de modificação da decisão por qualquer meio processual dentro do processo em que foi proferida é chamado tradicionalmente de coisa julgada formal, ou ainda de preclusão máxima, considerando-se tratar de fenômeno processual endoprocessual. Como se pode notar, qualquer que seja a espécie de sentença – terminativa ou definitiva – proferida em qualquer espécie de processo – conhecimento (jurisdição contencioso e voluntária), execução, cautelar – haverá num determinado momento processual o trânsito em julgado e, como consequência, a coisa julgada formal.
Se todas as sentenças produzem coisa julgada formal, o mesmo não pode ser afirmado a respeito da coisa julgada material. No momento do trânsito em julgado e da consequente geração da coisa julgada formal, determinadas sentenças também produzirão nesse momento procedimental a coisa julgada material, com projeção para fora do processo em que foi proferida. Pela coisa julgada material, a decisão não mais poderá ser alterada ou desconsiderada em outros processos.
Essa imutabilidade gerada para fora do processo, resultante da coisa julgada material, atinge tão somente as sentenças de mérito proferidas mediante cognição exauriente, de forma que haverá apenas coisa julgada formal nas sentenças terminativas ou mesmo sentenças de mérito, desde que proferidas mediante cognição sumária, como ocorre para a maioria doutrinária na sentença cautelar. (...)”
Perceba então que toda sentença, de mérito ou não, gera coisa julgada formal, mas nem toda sentença tem o condão de gerar coisa julgada material.
Feitas essas considerações preliminares a respeito da coisa julgada, é possível avançar para o escopo do presente trabalho, qual seja, os limites objetivos da coisa julgada nas relações jurídico-tributárias de trato sucessivo.
Mas o que vem a ser relação jurídico-tributária de trato sucessivo?
Para responder essa pergunta é muito importante destrincharmos o conceito de fatos jurídicos tributários continuados.
Para o ilustre doutrinador Paulo de Barros Carvalho, os fatos jurídicos “são os enunciados proferidos na linguagem competente do direito positivo, articulados e em consonância com a teoria das provas.”
Significa dizer que determinado fato, para que produza os efeitos relevantes no mundo jurídico, deve passar pela tradução da linguagem própria do direito, isto é, o linguajar jurídico. As provas, por sua vez, garantem que a tradução para a linguagem competente corresponde exatamente ao que aconteceu no mundo dos fatos. É dizer, não há um trespasse direto e automático.
Neste passo, a multicitada doutrinadora Aurora Tomazini de Carvalho, repare:
“Para que um acontecimento da realidade social (plano do ser) ingresse no plano do direito positivo (mundo do dever-ser) é preciso que ele seja enunciado na linguagem própria do direito: na linguagem jurídica. Caso isso não ocorra, ele continuará a pertencer ao plano da realidade social.
Nos mesmos termos, a modificação efetiva de determinada conduta não se dá com a aplicação da norma e consequente produção de uma linguagem jurídica (norma individual e concreta), mas com a constituição de uma linguagem social orientada pela linguagem jurídica.”
Transportando tal conceito para o foco deste estudo, o fato jurídico tributário é aquele acontecimento no mundo real que traduzido para a linguagem jurídico-tributária interessa para a ciência do Direito Tributário.
Assim, nos resta finalmente entender o que vem a ser trato continuado ou sucessivo. A doutrina sempre subdividiu a relação jurídico-tributária tendo em mente o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, podendo ser instantâneo, continuado e complexivo.
Cabe aqui um pequeno parêntese. Para que não se maltrate a norma culta, é bom que se diga que o termo “complexivo” sequer existe na língua portuguesa, sendo aqui reproduzida tão somente para fins didáticos, já que o vocábulo é comumente utilizado pelos tributaristas para explicar a relação jurídico-tributária.
Pois bem. O instantâneo se inicia e se encerra num só momento (ex: ITBI), sendo certo que o continuado se dá de forma duradoura e estável, a exemplo da CSLL e do IPTU. O complexivo, por sua vez, se caracteriza por diversos acontecimentos num determinado espaço de tempo que, somados, irão concretizar o fato gerador. É o caso clássico do IR.
Em outras palavras, a relação jurídico-tributária de trato continuado ou sucessivo decorre de fatos geradores instantâneos que vão se repetindo no tempo.
O saudoso jurista Teori Zavascki se pronuncia de forma cirúrgica acerca da relação jurídica continuada ao dispor que:
“(...) nascida de fatos geradores instantâneos que, todavia, se repetem no tempo de maneira uniforme e continuada. Os exemplos mais comuns vêm do campo tributário (...). Na verdade, as relações sucessivas compõem-se de uma série de relações instantâneas homogêneas que, pela sua reiteração e homogeneidade, podem receber tratamento jurídico conjunto (...). No geral dos casos, as relações sucessivas pressupõem-se e dependem de uma situação jurídica mais ampla, ou de determinado status jurídico dos seus figurantes, nos quais se inserem, compondo-lhes a configuração.”
Assim, já é possível tentar estabelecer a inserção dos limites objetivos da coisa julgada objetiva nas relações jurídicas de trato sucessivo.
Para melhor ilustrar e facilitar a compreensão, imagine a situação em que determinado contribuinte, nos idos dos anos 90, obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava do pagamento da CSLL. A Justiça Federal teria considerado que a lei instituidora da contribuição (Lei n.º 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar.
Ocorre que, apesar da formação da coisa julgada no referido caso hipotético, o STF em julgamentos análogos passou a se orientar num sentido diametralmente oposto, o que colocava em conflito o manto da coisa julgada e as decisões supervenientes da Suprema Corte, guardiã última da Constituição de 1988.
Como se sabe, de acordo com o art. 503, do CPC de 2015, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” Trata-se, pois, do que a doutrina mais abalizada convencionou denominar de limites objetivos da coisa julgada.
É importante rememorar que o processo é o meio utilizado pelo Estado para compor litígios, dando aplicação ao direito objetivo frente a uma situação contenciosa. Lide ou litígios é o conflito de interesses a ser solucionado pelo juiz. As partes em dissídio invocam razões para justificar a pretensão de uma e a resistência da outra, criando dúvidas sobre elas, que dão origem às questões. Questões, portanto, são os pontos controvertidos envolvendo os fatos e as regras jurídicas debatidas entre as partes.
Em resumo, lide é pretensão resistida, a ser solucionada, em regra, pelo Estado-Juiz, que a resolve por meio de decisão de mérito. E “o que individualiza a lide, objetivamente, são o pedido e a causa petendi, isto é, o pedido e o fato constitutivo que fundamenta a pretensão.”
Seria então possível uma decisão judicial vulnerar a coisa julgada formada num determinado processo?
A resposta não parece difícil se voltarmos os olhos para a ação rescisória que visa justamente desconstituir determinada decisão nos casos previstos no art. 966, do CPC.
Mas e em processos de índole objetiva? Antes de avançarmos para a solução do questionamento, não se pode perder de vista que a coisa julgada está intimamente ligada ao princípio da segurança jurídica, que, como exposto alhures, encontra-se elencada no seleto rol dos direitos e garantias fundamentais da CRFB/1988.
Entretanto, o debate aqui travado não envolve apenas a coisa julgada. Não. Existe um outro interesse constitucionalmente protegido que também deve ser ponderado, qual seja, o princípio da igualdade em matéria tributária, previsto de forma expressa no art. 150, II, da CRFB/1988, que assim reza:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;”
De mais a mais, a isonomia tributária também está relacionada à livre concorrência, sendo essa um postulado da ordem econômica (art. 170, IV). Confira-se:
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
IV - livre concorrência;”
Isso quer dizer que, se de um lado tem-se a autoridade da coisa julgada material, do outro há a igualdade e a livre iniciativa, todos com assento constitucional. E como não há hierarquia entre princípios constitucionais, não é possível estabelecer, em abstrato, qual deve prevalecer.
Impõe-se, por conseguinte, a aplicação da técnica de interpretação constitucional denominada “ponderação”, que nada mais é que a preponderância (e não a supressão), no caso concreto, de um determinado princípio caso haja “choque” entre eles.
O ideal é que a ponderação procure fazer concessões mútuas, salvaguardando ao máximo os direitos em conflito. Nessa linha tênue, contudo, o intérprete deve fazer escolhas e promover ressalvas.
Na situação hipotética supramencionada, a igualdade tributária apenas prepondera sobre a segurança jurídica, o que não afasta a convivência harmoniosa entre eles, frisa-se pela pertinência.
Explico.
O caput do art. 505, do CPC, encerra o princípio da segurança jurídica, eis que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (regra geral).
Noutra quadra, o inciso I prevê que na específica hipótese de uma relação jurídica de trato continuado - a CSLL no nosso exemplo – o juiz poderá decidir de novo, se valendo, (por que não?), da igualdade e da livre iniciativa.
Isto é, em relações jurídicas dessa natureza vale a coisa julgada enquanto inalterado o contexto fático e jurídico subjacente.
Não por acaso, o próprio CPC de 2015 reconhece a necessidade de adequação fática e jurídica, inclusive com efeitos retroativos, quando houver entendimento do STF em controle de constitucionalidade concentrado e difuso. Os arts. 525, §12, e 535, § 5º, do aludido diploma legal, preveem a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo incompatível com a Constituição.
Destarte, a segurança jurídica, resguardada pela coisa julgada, não pode ser entendida como um valor absoluto, sendo passível de flexibilização em favor de princípios constitucionais outros que cumpram mais fielmente o desejo constitucional.
Nesta linha de intelecção, ficou estabelecido no acórdão proferido nos autos do paradigmático RExt n.º 596663, ‘que a coisa julgada não pode servir como salvo conduto imutável a fim de ser oponível eternamente pelo jurisdicionado somente porque lhe é benéfica, de modo que, uma vez modificado o contexto fático e jurídico — com o pronunciamento da Corte em repercussão geral ou em controle concentrado — os efeitos das decisões transitadas em julgado em relações de trato continuado devem se adaptar, aplicando-se a lógica da cláusula “rebus sic stantibus”.’
Trocando em miúdos, somente enquanto as coisas permanecerem do modo que estão, é que a coisa julgada não poderá ser relativizada. Se houver modificação na situação de fato e de direito, ela deixa de produzir seus efeitos. Veja:
“Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.”
(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 25-11-2014 PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174)
Hugo de Brito Machado se vale do exemplo de uma ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário para acompanhar o entendimento dos Tribunais Superiores que flexibilizam a coisa julgada em sede de relação jurídica continuativa, repare:
“(...) em se tratando de ação declaratória, não há dúvida de que a sentença que se reporte a relação jurídica continuativa produz efeitos para o futuro. A declaração de existência, da inexistência, ou do modo de ser de sua relação jurídica, neste caso, constitui o próprio dispositivo da sentença. Em se tratando de relação jurídica continuativa, esse dispositivo há de permanecer inalterado enquanto perdurar o estado de fato e a norma que com ele compõe a relação.” (g.n)
Machado arremata dizendo que “(...) o efeito da coisa julgada na relação jurídica continuativa faz imodificável a relação jurídica enquanto permanecerem inalterados os seus elementos formadores, a saber, a lei e o fato. Nada impede, todavia, mudança do elemento normativo formador da relação jurídica continuativa. Mudança que pode decorrer de alterações legislativas ou da declaração definitiva da constitucionalidade da lei antes tida por inconstitucional.”
Mais recentemente, o STF decidiu que as suas decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.
Por outro lado, as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Veja:
“Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle difuso fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. A decisão transitou em julgado. 3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que, em 2006, a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL concernente aos anos de 2001 a 2003. Sendo assim, por se tratar de autuação relativa a fatos geradores anteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15, prevalece a coisa julgada em favor do contribuinte. Como consequência, nega-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.”
(RE 955227, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023)
A razão de ser é simples, pois diferentemente do que ocorre com as decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, “As decisões em sede de controle de constitucionalidade, como dito, têm caráter geral e abstrato. Quer dizer, não há maiores dificuldades quanto à decisão revisional; bastará reanalisar a coisa julgada, a partir da nova situação do ordenamento jurídico. Como a vinculação ocorre no plano normativo, não há necessidade de justificar muito extensamente a razão pela qual a decisão paradigma afeta a coisa julgada, pois essa é uma verdade auto-evidente: O STF declarou inconstitucional a norma que a coisa julgada individual havia declarado constitucional, ou vice-versa. Como toda a discussão é sobre a lei em tese, não há necessidade de entrar a fundo nas peculiaridades dos casos concretos.”
Uma vez modificado o contexto fático e jurídico — com o pronunciamento da Corte em repercussão geral ou em controle concentrado — os efeitos das decisões transitadas em julgado em relações de trato continuado devem se adaptar, aplicando-se a lógica da cláusula “rebus sic stantibus”, como bem restou evidenciado no corpo do acórdão proferido no RE n.º 596663.
Logo, fica evidente que a coisa julgada, muitas vezes compreendida como algo intocável, salvo nas restritas hipóteses do art. 966, do CPC, ganha novos contornos na doutrina e na jurisprudência do STF quando se está diante de uma relação jurídica de trato sucessivo.
No caso da relação jurídico-tributária, tal conclusão se torna ainda mais palpável pois há uma forte preponderância do princípio da igualdade, eis que não se afigura crível nem tampouco razoável beneficiar uns em detrimentos de outros quando o contexto fático e jurídico que justificou o discrímen não mais subsiste.
Não é porque as coisas são como são que deverão permanecer assim eternamente, de modo que os efeitos da coisa julgada no caso concreto devem seguir a dialética da cláusula “rebus sic stantibus” da teoria geral dos contratos do Direito Civil, em verdadeiro diálogo das fontes, sem se descuidar, todavia, do entendimento do STF sufragado nos autos dos Recursos Extraordinários 955227 e 596663.
Este é um espaço de debate e manifestação para os associados publicarem artigos. Os textos expressam a opinião de seus autores e não a posição institucional da ANPM.
Envie seu artigo para [email protected].