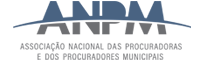Por: Filipe Cortes de Menezes,
Doutorando e Mestre em Direitos Humanos na Universidade Tiradentes. Especialista em Direito Público na Universidade Norte do Paraná. Procurador Municipal e membro da Comissão de Estudos constitucionais OAB-SE.
Henrique Ribeiro Cardoso,
Doutor em Direito, Estado e Cidadania (UGF/Rio), com Pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos (IGC-Universidade de Coimbra) e Pós-doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento (PPGCJ/UFPB); Mestre em Direito, Estado e Cidadania (UGF/Rio); Professor do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe (PRODIR/UFS) e do Programa de Pós-graduação da Universidade Tiradentes (PPGD/UNIT); Promotor de Justiça Titular da Fazenda Pública em Sergipe (MPS). Líder do Grupo de Pesquisa Constitucionalismo, Cidadania e Concretização de Políticas Públicas
Mateus Levi Fontes Santos,
Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Direito Constitucional (Faculdade Damásio de Jesus) e em Direito Tributário (IBET). Advogado da União (categoria especial). Membro da Câmara Nacional de Sustentabilidade da Advocacia-Geral da União.
RESUMO: O artigo examina os institutos da presidência e do colégio de líderes, previstos nos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em cotejo com a democracia e a ação comunicativa, tendo por referencial teórico James Fishkin e Jürgen Habermas. Sob o pano de fundo da tramitação da PEC nº 153/2003-Câmara e nº 17/2012-Senado, que constitucionaliza a carreira de procuradores municipais, o artigo endereça o seguinte problema: se a concentração de atribuições decisórias na Presidência e no Colégio de líderes implica um agir estratégico, em detrimento da qualidade da democracia deliberativa. A hipótese é afirmativa e a metodologia empregada no estudo é qualitativa, por meio de revisão bibliográfica, com recurso ao método indutivo.
PALAVRAS-CHAVE: democracia; deliberação; agir estratégico; Presidência; Colégio de líderes.
ABSTRACT: The article examines the institutes of presidency and college of leaders, provided in the internal regulations of the legislative houses of Congress, in link with democracy and communicative action in comparison with, having as theoretical reference James Fishkin and Jürgen Habermas. Against the background PEC nº. 153/2003-Câmara and nº 17/2012-Senado, which constitutionalizes the career of municipal attorneys, it addresses the following problem: if the concentration of decision-making power in the Presidency and in the College of leaders imply a strategic action, in detriment of the quality of deliberative democracy. The hypothesis is affirmative, and the methodology used in the study is qualitative, through literature review and inductive method.
KEYWORDS: democracy; deliberation; acting strategically; Presidency; College of Leaders.
INTRODUÇÃO
A democracia constitui regime com a inata qualidade de permitir a resolução dos diversos conflitos sociais e intraestatais de forma pacífica. A solução encontrada para as diversas posições decorre da interação política no processo de deliberação pública, particularmente nos órgãos legislativos.
Contudo, a concretização do potencial democrático requer participação efetiva dos agentes envolvidos no jogo político do debate, num contexto plural e de desconcentração de poderes a atribuições. Por outro lado, a excessiva concentração de poderes em determinados órgãos e agentes legislativos mitiga a qualidade deliberativa e erode o potencial pacificador democrático. Sob este olhar, examina-se os institutos da Presidência e do Colégio de líderes, previstos nos textos regimentais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
A partir da Proposta de Emenda Constitucional – PEC nº 153/2003 (Câmara) e nº 17/2012 (Senado), analisa-se o processo de construção das pautas no Congresso Nacional, de sorte a responder à seguinte questão: a concentração de atribuições decisórias na Presidência e Colégio de líderes implica um agir comunicativo estratégico, em detrimento da qualidade da democracia deliberativa? A hipótese é afirmativa e a metodologia empregada no estudo é qualitativa, por meio de revisão bibliográfica da temática, com recurso ao método indutivo.
Num primeiro momento, sintetiza-se o trâmite legislativo da citada PEC, que pretende constitucionalizar a carreira de Procuradores Municipais. Tendo sua tramitação como pano de fundo, num segundo momento, firma-se as premissas bases de reflexão acerca do regime democrático e da deliberação participativa, utilizando-se como marco teórico a deliberação qualitativa de James Fishkin e a democracia deliberativa de Jürgen Habermas. Num terceiro momento, reflete-se se a concentração de poderes decisórios sobre definição de pauta traduz uma ação estratégica prejudicial à democracia, na esteira da teoria do agir comunicativo de Habermas.
Em suma, a análise pretende compreender a construção de pautas do Congresso Nacional e avaliar em que medida a concentração de poder para defini-las afeta o aspecto participativo de agentes políticos e demais atores sociais, em detrimento do caráter discursivo-deliberativo da democracia.
1 A PEC DOS PROCURADORES MUNICIPAIS – A CONSTRUÇÃO DA PAUTA
Em 2003, o então deputado Maurício Rands protocolou na Câmara dos Deputados Proposta de Emenda à Constituição – PEC autuada sob o nº 153/2003. A proposta foi subscrita por partidos de projeção e variados perfis ideológicos – PMDB, PDT, PTB, PL, PT, PSDB, PFL, PSC, PV, PP, PSB, PRONA, PPS, PC do B, PSL, PTB, PPS, PDT e PSDB – circunstância indicativa da pertinência e importância da matéria, naturalmente merecedora de deliberação. O escopo da PEC era alterar o artigo 132 da Constituição Federal de 1988 a fim de deixar expresso que o ingresso na carreira de procurador municipal demanda aprovação em concurso público de provas e títulos.
A PEC era um pleito histórico da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM), na medida em que valoriza a classe e a promove fins republicanos[4], tais como a defesa do erário e o efetivo controle de legalidade dos atos administrativos.
Em 2004, a PEC foi analisada e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do então deputado José Eduardo Cardoso, à época procurador do Município de São Paulo licenciado, nos termos de relatório lido no Plenário por ocasião da 129º sessão, ocorrida em 18 de junho do referido ano.
Em maio de 2005, o Presidente da Casa, o deputado Severino Cavalcanti, constituiu comissão especial para analisar a matéria, cujos membros deveriam ser designados posteriormente. Contudo, somente em 30 de novembro de 2009, o Presidente da Casa, o deputado Michel Temer designou os integrantes da comissão.
A relatoria da comissão especial ficou a cargo do deputado Nelson Trad, que se pronunciou favoravelmente ao mérito da proposição. A proposta não sofreu emendas na comissão e foi aprovada em 10 de março de 2010. O respectivo parecer inclusive enfatizou, citando doutrina da Ministra Carmen Lúcia, que o advogado público não pode ficar sujeito a interesses subjetivos e passageiros dos governantes. Tal parecer foi lido em plenário na mesma sessão.
Apesar de aprovada em ambas as comissões sem emendas, no sentido defendido por ambos os relatores mencionados, a matéria ficou mais de dois anos sem qualquer tramitação, somente vindo a ser pautada para deliberação no plenário da Casa Legislativa em 2012, após vários requerimentos de inclusão terem sido protocolados pelos Deputados Mendonça Prado, Raquel Teixeira e Carlos Sampaio.
A matéria foi pautada no plenário da Câmara durante a presidência do deputado federal Marco Maio. A votação em primeiro turno ocorreu em 27 de março de 2012, com aprovação da proposta (396 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção). Em 11 de abril de 2012, a PEC foi pautada, votada e aprovada em segundo turno (406 votos favoráveis, 1 voto contrário e 2 abstenções).
No transcurso dos turnos de votação, Deputados de inúmeros partidos se manifestaram a favor da proposta. Os argumentos favoráveis podem ser assim sintetizados: (a) tratamento igual aos procuradores do Estado; (b) defesa do interesse público mediante advogados de carreira; (c) necessidade de um corpo jurídico concursado; (d) fortalecimento da categoria, dada a sua importância; (d) valorização dos Municípios; (e) carreira típica de Estado; (f) credibilidade, estruturação, valorização, profissionalização e responsabilidade; (g) luta histórica dos procuradores municipais; (h) demanda dos Municípios, e não pauta corporativa; (i) necessidade de conferir estabilidade ao serviço e ao interesse público; (j) fortalecimento das carreiras, criação de advocacia do ente e não do gestor, independência técnico-jurídica; (k) reconhecimento da luta e importância da categoria; (l) relevância estrutural dos 5.600 municípios, cidadania, controle de legalidade, segurança jurídica e vinculação ao Estado; (m) controle de legalidade justo e eficiente; (n) maturidade da matéria e compromisso com a qualificação do serviço público; (o) saneamento de omissão e preconceito com gestão municipal relativamente aos demais entes federativos, maior qualificação e segurança jurídica; (p) expressividade da votação (voto favorável de mais de 400 deputados) e colaboração da categoria de procuradores municipais a sua atuação como gestor local.
A única manifestação contrária durante as etapas de votação foi a do Deputado Espiridião Amim que, em que pese tenha registrado a posição favorável do seu partido, sustentou que a matéria implicaria em reserva de mercado à advocacia, o que a seu ver deveria ser evitado.
Após, a PEC foi encaminhada ao Senado Federal, sendo autuada sob o nº 17/2012. Nesta Casa, o trâmite foi bastante moroso. A proposta, lida na sessão plenária do dia 16 de abril de 2012 e de pronto enviada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, ficou sob a relatoria e sob a presidência, respectivamente, dos Senadores Inácio Arruda e Eunício Oliveira. O relator emitiu e submeteu o relatório à comissão em 04 de maio de 2012, sendo incluída em pauta para votação em 09 de maio de 2012. No voto, o relator destacou, entre outros pontos, que a proposta não apresentava prazo de implementação, nem quantitativo de procuradores, o que afastaria o risco de qualquer consequência prejudicial aos Municípios. Tal relatório foi votado, lido e aprovado na sessão plenária do Senado, com a seguinte redação:
Art. 132. Os Procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica dos respectivos entes federados.
(BRASIL, 2012)
Após a leitura, a proposta ficou pronta para inclusão em pauta em 10 de maio de 2012. No entanto, a votação em primeiro turno somente se iniciou em 07 de agosto de 2013, após aprovado prévio requerimento dos líderes partidários.
Iniciada a votação, o Senador Inácio Arruda propôs que a matéria retornasse à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em virtude de proposta de emenda formulada pela Senadora Ana Amélia (nº 3/2013). Em seguida, foi aprovado o requerimento nº 93, em sessão de 18 de dezembro de 2013, para realização de audiência pública de iniciativa dos Senadores Ricardo Ferraço, Pedro Simon e Rodrigo Rollemberg.
A audiência pública ocorreu em 18 de março de 2014 com a presença dos seguintes convidados: Antônio Guilherme Rodrigues de Oliveira, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais – ANPM; Marcos Vitório Stamm, Diretor-Presidente da Associação Brasileira de Advogados Públicos – ABRAP; Marcello Terto e Silva, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do DF – ANAPE; Paola Aires Corrêa Lima, Procuradora-Geral do Distrito Federal; e Paulo Roberto Basso, Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Institucionais do Estado do Rio Grande do Sul. Usaram da palavra os Senadores Pedro Taques, Paulo Paim, Ricardo Ferraço, Inácio Arruda, Sérgio Souza e o Senador Vital do Rêgo, Presidente da CCJ.
Concluída a reunião em questão no dia 19 de maio de 2014 e rejeitada a emenda nº 3/2013, da Senadora Ana Amélia, a matéria estava pronta para deliberação da comissão. O referido parecer aprovado pela CCJ foi lido em plenário em 09 de junho de 2014, momento a partir do qual a matéria ficou pronta para ser reincluída em pauta. Após esta data, diversas entidades da sociedade civil postularam o reinício da votação, cujos ofícios e documentos foram anexados aos autos da PEC. Entretanto, a Presidência do Senado não o fez e em 21 de dezembro de 2018, em razão do término da legislatura e na forma do § 1º do art. 332 do Regimento Interno, a PEC foi arquivada provisoriamente, sem deliberação.
Iniciada a nova legislatura, diversos Senadores[5] requereram o desarquivamento da PEC, mediante a petição RQS 59/2019. A postulação foi lida no plenário em 21 de fevereiro de 2019 e aprovada na sessão de 22 de maio de 2019, o que resultou no seu desarquivamento.
Apesar das expressivas votação na Câmara, postulação da sociedade civil e adesão de senadores, desde o desarquivamento já se passaram mais de dois anos sem qualquer movimentação relevante no trâmite da proposta, que permanece ao aguardo da vontade política da presidência e de lideranças da Casa.
O caso da PEC nº 17/2012 não é isolado. Em verdade, é sintomático e ilustrativo da concentração de poder legislativo em poucos agentes políticos[6]. Com efeito, a não deliberação de temas e pautas maduras é um grande prejuízo para a democracia. A omissão e inércia corroem a integridade deste regime, que, por definição, é o palco de conciliação pacífica de divergências, numa ambiência de debate público qualificado. O não ensejo ao diálogo plural e posturas expressas ou implícitas de concentração de poder político, mediante, por exemplo, não inclusão em pauta, contradizem a razão de ser do regime democrático.
A questão posta no tema em reflexão apresenta-se ainda mais emblemática na medida em que, consoante a norma regimental, se a matéria desarquivada não for votada até o final da nova legislatura, ela é arquivada em definitivo, em decorrência da antidemocrática rejeição implícita por não votação.
Abordado o trâmite da proposta de alteração constitucional em ambas as Casas, passa-se a discorrer sobre as premissas teóricas necessárias a responder a problemática posta. Em específico, reflete-se em que medida os institutos da presidência e do colégio de líderes, no trâmite da proposta em questão, prejudicaram o desenvolvimento da democracia deliberativa.
2 PRESIDÊNCIA, COLÉGIO DE LÍDERES E DELIBERAÇÃO
Como visto, a tramitação da PEC foi morosa em ambas as Casas do Congresso Nacional. Somente na Câmara dos Deputados, entre o início do trâmite do projeto e a finalização da votação, transcorreu-se quase uma década. No Senado Federal, já se passou quase uma década desde o início da tramitação. Além disso, desde maio de 2019 a proposta está madura para ser deliberada em plenário.
Tal lentidão em matéria de interesse da sociedade civil, dos municípios e do funcionalismo público, já aprovada pela Câmara dos Deputados após longo feito e encampada por parcela representativa do Senado, revela indício da crise de integridade institucional da representação, que sofre com a crônica questão do afastamento entre representantes e representados e descolamento entre os interesses de quem vota e de quem é votado (DIAS; MATTEDI, 2015, p. 161).
O reinício da votação dependia exclusivamente de ato da presidência do Senado, provocada ou não por líderes partidários. Contudo, a matéria permaneceu parada apesar das várias solicitações de reinclusão apresentadas por diversas entidades da sociedade civil, de modo que a PEC foi provisoriamente arquivada em dezembro de 2018, tendo em vista o término da legislatura. Ademais, mesmo após o desarquivamento ocorrido em maio de 2019, a proposição não foi reincluída em pauta, incorrendo em risco de arquivamento definitivo, caso não debatida em plenário até o término da legislatura, nos termos do §2° do art. 332 da norma regimental de discutível constitucionalidade[7]. Assim, o exame do tramitação da PEC em ambas as casas do Congresso indica que sua mora[8] decorreu, nomeadamente, da concentração de poderes em mãos da presidência e do colégio de líderes.
O eixo central da democracia reside na existência de conflito (VITULLO, 2007, p. 59) e na sua resolução mediante interação pacífica com o fito de obter consensos provisórios. Neste ponto, o regime não pode ser compreendido de forma dogmática, abstratamente preconcebida. Antes, decorre da realidade concreta de cada país, de sorte que existem diversas formas de democracia, cujos princípios estão dispersos nos diversos setores da vida social, não se limitando, portanto, ao âmbito da estrutura estatal (ROCHA, 2002, p. 91).
Vale dizer, a democracia não se qualifica como realidade dogmática estática, mas como forma de implementação da política, que é sensível a mudanças, adaptações e aprimoramentos em cada país, de acordo com a influência cultural respectiva e o nível de consciência política das sociedades. Contudo, algumas características são ínsitas ao regime, a exemplo do pressuposto de uma participação efetiva dos cidadãos (DAHL, 2016, p. 50).
A co-atuação de agentes políticos integrantes das casas legislativas e atores externos, nestes compreendidas as diversas entidades da sociedade civil – inclusive, no caso em pauta, as representativas de classes defensoras da integridade institucional (v.g., ANPM e Ajufe) – é um pressuposto democrático relevante[9]. Portanto, o modelo democrático não deve se limitar a mero conjunto de procedimentos e ritos pré-estabelecidos, em si mesmo exclusiva e unicamente considerados, mas sim consubstanciar modelo de resolução de conflitos através da interação efetiva concretizada no contexto de um debate real, efetivo, nos quais os diversos argumentos sejam postos à mesa de discussão, por todos compreendidos e considerados (FISHKIN, 2015, p. 50). A deliberação deve ser qualitativa. Aliás, na linha dos fundadores do regime democrático norte-americano, a opinião pública, quando filtrada pelos processos deliberativos, serviria ao bem popular e evitaria as revoltas da multidão que ameaçavam a tirania da maioria (Idem, p. 32).
Decerto, a democracia não se limita à mera eleição dos representantes por meio do sufrágio, mas é vivida por intermédio do debate acerca das questões de interesse coletivo. No espaço público, os cidadãos podem criticar as decisões do governante e exigir justificativas para suas escolhas. O controle do governo pelo público, assim, não se limita ao momento do sufrágio, mas ocorre durante todo o mandato, o que contribui para diminuição de decisões arbitrárias (SOUZA NETO, 2006, p. 59).
Ressalta-se, assim, a importância do elemento deliberação no modelo democrático[10]. Com efeito, a democracia deve constituir regime que permita a construção de pautas socialmente legitimadas e respaldadas, instrumento de implementação da dignidade do ser humano concretamente considerado (ROCHA, 2002, p. 92). Tal constituição fica em demasia prejudicada quando abordada sob o viés estritamente formal.
Portanto, a não discussão, o não debate, a não deliberação de temas expressa e substancialmente reivindicados ao Legislativo, sobretudo via arquivamento in albis da pertinente proposta, é paradeiro ingrato e corrosivo à integridade democrática. Também o é a discussão meramente formal, não garantidora de genuína participação dos agentes interessados e não receptora de ponderações pertinentes, que restringe o debate público e confere a definição de pautas a poucos agentes políticos. É o que, por exemplo, prescrevem o art. 17, inciso I, alínea “s”, do Regimento Interno da Câmara de Deputados (RICD) e o art. 48, VI, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), ao cometerem aos Presidentes das Casas, com exclusividade, a definição de pautas, ouvido apenas o Colégio de líderes:
Art. 17. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:
I - quanto às sessões da Câmara:
[...]
- s) organizar, ouvido o Colégio de líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente, para distribuição aos Deputados;
(BRASIL, 2021a)
Art. 48. Ao Presidente compete:
[...]
VI - designar a Ordem do Dia das sessões deliberativas e retirar matéria da pauta para cumprimento de despacho, correção de erro ou omissão no avulso eletrônico e para sanar falhas da instrução;
(BRASIL, 2021b)
De fato, a interação efetiva entre os agentes políticos enseja resultados melhores e institucionalmente mais adequados para as pautas em discussão. Já a concentração de poderes em demasia, especialmente manifestada na decisão sobre o que vai ser pautado, pode constituir exercício autoritário de poder, na medida em que um único agente (v.g., presidente) ou pequeno grupo (v.g., colégio de líderes) pode limitar o dever-direito parlamentar (interna corporis) e social (externa corporis) de deliberação[11].
Não custa lembrar que, no pacto autoritário, o poder soberano é instituído ilimitadamente ou, ainda que sujeito a limites, suas decisões, que vinculam a coletividade, são exaradas por um grupo restrito ou por uma só pessoa, sem qualquer acordo ou participação dos destinatários das decisões (BOBBIO, 2015, p. 281). Logo, é salutar que agentes políticos e a sociedade estejam em vigília contra o excesso e a concentração de poder parlamentar, mormente em se tratando da definição de agendas de integridade institucional, como no caso da PEC 17/2012-Senado, cujo intuito é aperfeiçoar o controle de legalidade e a defesa do interesse público.
Frise-se que a participação social é salutar ao adequado desenvolvimento do regime democrático, caracterizado que é pelo exercício da cidadania e pelo controle popular do poder estatal, visto que confere legitimidade às pautas e decisões estatais. Aliás, como bem pontuou Carmen Lúcia, o que de fato limita o Poder não é (apenas) o Poder, mas a cidadania ativa no seio do processo político:
Mas a Administração Pública faz-se com o público, com o administrado e para ele. Por isso, enquanto ele for expectador teatral desatento ao quanto passa nas coxias, ela sempre será uma ação de poucos para o interesse de grupos. Não é apenas o Poder que pode ‘parar’ o Poder, segundo a fórmula de Montesquieu. O Poder não para o Poder, porque o Direito não traz em sua essência a força que se dá a fazer valer por si mesmo. O que torna o direito uma garantia eficaz é a presença ativa, permanente e incontrolável da força dos cidadãos reunidos, organizados e direcionados em suas tendências e em suas aspirações a determinar o que querem seja realizado pelo Estado. O que ‘para’ o Poder é a cidadania ativa, é a atuação conjunta da parcela do povo que atua de forma determinada e determinante para que o processo político não se restrinja ao quanto se passa ausente aos olhares cidadãos (ROCHA, 2002, pp. 96-97)
Neste contexto de deliberação e participação, insere-se a democracia deliberativa e a teoria discursiva do Direito, de Jürgen Habbermas. A democracia deliberativa, de perfil procedimental[12], procura revelar que os pressupostos comunicativos e as condições do processo de formação da opinião são a única fonte de legitimação (LUBENOW, 2010). Segundo Habermas (2003, p. 27), a chave de tal concepção é que “o processo democrático institucionaliza discursos e negociações com o auxílio de formas de comunicação às quais devem fundamentar a suposição da racionalidade para todos os resultados obtidos conforme o processo”. A democracia é deliberativa, justamente porque se baseia no diálogo social, nas interações travadas pelos cidadãos, no embate entre argumentos e contra-argumentos no espaço público e nos fóruns oficiais, que teriam o condão de racionalizar e legitimar o processo decisório democrático (SARMENTO; SOUZA NETO, 2014, p. 222).
Numa dimensão ideal, a razão comunicativa serve de fundamento para a visão de legitimidade normativa, que é centrada na inclusão dos afetados pela decisão, denominada pelo autor de princípio do discurso deliberativo (VARGAS, 2019, p. 129). Conforme tal princípio[13] (“D”), são “válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais” (HABERMAS, 2003, p. 142). A estrutura intersubjetiva de comunicação, e não um conjunto moral específico, é que asseguraria a legitimidade das normas e o respeito ao princípio D (VARGAS, 2019, p. 130). Isto é, o Direito legítimo é apenas aquele em que os cidadãos sejam não apenas os destinatários das normas jurídicas, mas possam enxergar-se também como os seus coautores (SARMENTO; SOUZA NETO, 2014, p. 223).
A teoria discursiva do direito de Habermas ocupa-se prioritariamente de tal produção legítima do Direito. Não especificamente da decisão concreta, relacionada a um caso específico delimitado num processo judicial, mas da produção de normas gerais, servindo-se para tanto – a par de discursos de aplicação – de discursos de fundamentação (CARDOSO, 2010, p. 310). Destarte, numa dimensão institucional, Habermas trabalha com a distinção entre discursos de fundamentação, relativos à produção da norma geral, e discursos de aplicação, derivação concreta da norma geral. Os discursos de fundamentação partem da assunção da posição de um “nós”, que assume as perspectivas da compreensão do mundo e da autocompreensão de todos os participantes. Discursos de fundamentação devem generalizar uma norma adequada proposta em consonância com o estágio do nosso conhecimento. Por sua vez, os discursos de aplicação procuram alcançar a segurança de expectativas sob condições de exiguidade de tempo e de conhecimento incompleto, buscando a adequação de uma norma a uma circunstância, em consideração a todos os sinais característicos da situação de aplicação (CARDOSO, 2010, p. 311).
A distinção entre as espécies de discursos visa a dois propósitos: (i) tornar o Direito mais autônomo e imparcial no momento de aplicação da norma e (ii) tornar o Direito mais inclusivo no momento de produção da norma, ao aumentar o espaço de participação dos potenciais atingidos em seu processo de produção, ampliando-se sua legitimidade (VARGAS, 2019, p. 132).
Em linha com este segundo propósito, o regime democrático deve buscar contínuo aprimoramento da deliberação participativa, inclusiva, aberta a todos os que serão atingidos pela pautas políticas em discussão. Deve-se implementar uma democracia efetiva, espraiada em toda a extensão do sistema, seja na sociedade e em particular nos órgãos do Estado, não podendo ser um regime somente normativamente posto, mas não implementado na prática (ROCHA, 2002, p. 95). Logo, restringir a amplitude deliberativa e a efetiva participação de interessados na norma, particularmente mediante concentração de atribuições decisórias legiferantes – tal como conferem o RICD e RISF à presidência e ao colégio de líderes – pode implicar estado de contínua erosão da democracia e de crise de legitimidade da (não) produção normativa.
Assim, para que a proposta habermasiana opere adequadamente, o ordenamento jurídico, especialmente o Direito Constitucional, deve garantir as condições para que cidadãos participem ativamente do processo deliberativo, com iguais condições de vocacionar suas percepções e argumentos, e as instituições do Estado devem estar habilitadas a reconhecer, filtrar e converter os inputs da manifestação civil em normas (VARGAS, 2019, p. 132).
Sob esta luz, há de se cogitar da (i)legitimidade das amplas atribuições da presidência e do colégio de líderes, notadamente do exercício desmedida daquela prevista no art. 17, inciso I, alínea “s”, do RICD e o art. 48, VI, do RISF.
- PRESIDÊNCIA, COLÉGIO DE LÍDERES E AGIR COMUNICATIVO
O regime democrático, como apontado, tem por desiderato a resolução de conflitos na sociedade por meio da interação pacífica e política dos seus integrantes em processo discursivo racionalmente delimitado de maneira não meramente formal, mas de modo a garantir debate e deliberação amplos, quantitativa e qualitativamente.
A esse propósito, a teoria do agir comunicativo de Habermas – que fundamenta sua ética do discurso e democracia deliberativa – busca identificar e propor modelos de fala que produzam resultados mais justos, que promovam o bem comum de todos os envolvidos no processo de fala e que sejam pautados pelo critério da correção normativa. Para tanto, Habermas propõe uma modalidade de coordenação do processo de comunicação – atos ilocucionários orientados ao acordo em um agir comunicativo forte (CARDOSO, 2009, p. 23), em que as pretensões de validez dependem de seu reconhecimento por falante e ouvinte, buscadas mediante razões discursivamente demonstradas ou demonstráveis, através de pretensões de verdade, sinceridade e correção normativa (CARDOSO, 2010, p. 128).
Há dois tipos básicos de interação via linguagem: agir comunicativo (forte e fraco) e o agir estratégico. O agir comunicativo é proposto como uma forma direcionada ao consenso e à consecução do bem comum, ao passo que a noção de agir estratégico visa à satisfação exclusiva de interesses egoísticos por meio de influenciação. O primeiro busca uma interação dialética que racionalmente logre consenso, enquanto o segundo pretende apenas produzir um resultado estratégico por meio de influenciação externa ao ato de comunicação, de modo que ambos os mecanismos de coordenação são mutuamente excludentes (CARDOSO, 2009, p. 51).
Em sentido forte, o uso comunicativo da linguagem é orientado ao acordo, que somente é alcançado se os envolvidos no discurso puderem aceitar uma pretensão de validade pelas mesmas razões. O respectivo ato ilocucionário deve passar pelo crivo das três pretensões de validade – verdade, sinceridade e correção normativa. Em sentido fraco, o agir comunicativo é orientado ao entendimento mútuo, que ocorrerá quando um participante vê que o outro tem boas razões para a intenção declarada, mas que não necessitam ser apropriadas por aquele (CARDOSO, 2009, pp. 25, 51 e 57).
De seu turno, no agir estratégico, os autores estão exclusivamente orientados para o sucesso, isto é, para as consequências do seu agir, e tentam influir externamente, mediante oferta de bens, sugestão, engano, ameaças ou seduções, a definição da situação, decisões ou motivos de seus adversários, ao que corresponde uma coordenação da ação por meio de um cálculo de ganhos egocêntricos (RIVIEIRA, 1995, p. 24). Nele, a comunicação é subordinada ao agir racional orientado a fins (racionalidade teleológica). Assim como no agir fraco, faltam os contextos normativos partilhados e a pretensão de correção normativa. Mas, diferentemente destes, as pretensões de verdade e sinceridade não almejam a motivação racional do ouvinte (CARDOSO, 2009, p. 65).
O processo legislativo pode ser conduzido pelos agentes políticos estratégica ou comunicativamente. Estrategicamente, quando se visa a mera produção de um resultado almejado, regimentalmente regular e minimamente convincente. Neste caso, o que importa é a conclusão do processo, quer tenha sido dado ou não ensejo/atenção à efetiva participação de outros agentes políticos e externos. Comunicativamente, quando o processo é conduzido de forma a promover o debate e a deliberação públicos, assim como a proporcionar acordo e entendimento. Se é certo que o direito não pode obrigar o emprego comunicativo de direitos fundamentais políticos, de outro lado, os agentes políticos devem se pautar por um agir comunicativo no sentido forte (CARDOSO, 2010, p. 233). Numa democracia, é o que se espera dos mandatários do poder.
No contexto do processo legislativo, a ação estratégica não se compromete com o amplo diálogo entre as partes interessadas e se contenta com decisões singulares, com omissões deliberadas e com o uso do inconsciente coletivo[14], desde que orientados ao fim proposto. Entretanto, à luz do aludido princípio democrático habermasiano (“D”), só se consegue garantir força integradora ao direito se a totalidade dos destinatários singulares da norma jurídica puder considerar-se autora racional dessas normas, de tal maneira que o direito moderno se nutre de uma solidariedade concentrada no papel do cidadão que surge do agir comunicativo (CARDOSO, 2010, p. 233).
Destarte, o processo legislativo deve ser preponderantemente um agir comunicativo, em que se garanta diálogo, participação e voz aos atores envolvidos direta ou indiretamente na proposta, em prol da autonomia pública e privada. De fato, a deliberação pública deve se pautar por ações comunicativas, voltadas ao entendimento, e não à realização de objetivos estratégicos particulares (SOUZA NETO, 2007). Isto supõe desconcentração de poderes de agenda e deliberação, inclusive na definição e encaminhamento de pautas nas casas legislativas. Desse modo, especialmente os órgãos dotados de estrutura administrativa[15] com finalidade instrumental condicionante e preparatória do próprio processo legislativo deve estar retroligada ao poder comunicativo. Afinal, o poder administrativo só se regenera a partir do poder comunicativo produzido conjuntamente pelos cidadãos. (CARDOSO, 2010, p. 249).
Portanto, a concentração de poder de agenda pode constituir obstáculo ao alcance de um consenso racional, que é a finalidade da relação interativa deliberativa (CARDOSO, 2009, p. 50). É o que se observa nos referidos arquivamento provisório e não inclusão em pauta da PEC 17/2012 pela presidência do Senado Federal, a despeito de todo apoio social e político à proposição.
Omissões como a tal são de duvidosa constitucionalidade, o que pode provocar a fiscalização da jurisdição constitucional. Segundo Marcelo Cantoni de Oliveira (2016, pp. 2013-214), na esteira da teoria discursiva de Habermas, a tarefa da jurisdição constitucional no exercício do controle judicial de constitucionalidade das leis é garantir as condições processuais para o exercício da autonomia pública e da autonomia privada dos cidadãos, de modo que a importância desse controle no que toca às normas de produção das próprias leis é evidente, quer na perspectiva de garantia do devido processo legislativo democrático (ou seja, democracia e abertura nos discursos de justificação), quer na garantia do devido processo constitucional (imparcialidade e adequabilidade nos discursos de aplicação constitucional). A seu turno, interpretando o procedimentalismo habermasiano, Cláudio Pereira Souza Neto (2007) sustenta que são materialmente fundamentais não apenas os direitos que configuram de forma imediata as condições para a participação no processo democrático, mas também aqueles cuja observância é necessária para que todos se sintam motivados a deliberar tendo em vista a realização do bem comum – direitos tais que podem ser tutelados mediante controle de constitucionalidade.
Nessa esteira, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4029/DF (Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2012) – cujo ratio decidendi tem afinidade com a crítica à concentração de poderes na presidência e colégio de líderes, em detrimento das deliberações colegiadas e plenárias – o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes premissas a propósito do controle do processo legislativo: a) possibilidade de o Judiciário controlar o processo legislativo, sobremodo quando violadas as premissas democráticas e ao devido processo; b) impossibilidade da vontade de determinado parlamentar/órgão se sobrepor unilateralmente ao do colegiado competente, no caso da ADI a comissão mista de análise de medidas provisórias; c) a Constituição Federal consagra o viés participativo da democracia.
Esclareça-se que não se está a sustentar mitigação da função legislativa[16] ou ingerência em matérias interna corporis, mas a recomendar o desenvolvimento qualitativo da atribuição típica do Poder legiferante, particularmente ao viabilizar efetiva participação popular, adensar a deliberação de pautas relevantes e combater a mora nos trâmites de propostas normativas, evitando, destarte, rejeições implícitas por omissão deliberativa, na forma do que, por exemplo, prevê o art. 332, §2º do RISF.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo democrático não pode se limitar a mero conjunto de ritos pré-estabelecidos, mas sim numa via de resolução de conflitos através da interação efetiva de grupos e agentes interessados. A democracia, deliberativa por natureza, requer ação comunicativa forte, que permita a interação racional discursiva de agentes políticos e externos, e não uma atuação egoisticamente estratégica.
Tal ação comunicativa necessita ser implementada de sorte a garantir que todos os atores envolvidos direta ou indiretamente possam dela participar, influenciando os respectivos resultados, cuja melhor implementação demanda desconcentração de poder no processo deliberativo, particularmente quanto à definição das pautas das casas legislativas. Neste ponto, nada mais nocivo e corrosivo à integridade democrática do que não se debater determinado tema expressa e formalmente reivindicado ao Legislativo, por decisão ou omissão da presidência e/ou colégio de líderes.
Limitar o regime democrático ao aspecto meramente formal, em particular em contexto normativo de excessiva concentração de atribuições decisórias em alguns órgãos legislativos, acarreta contínua erosão à qualidade da democracia e ao seu potencial pacificador, transmudando-a em mero mecanismo formal de controle político autocrático ou oligárquico.
O caso da PEC dos Procuradores Municipais – nº 153/2003 (Câmara) e nº 17/2012 (Senado) – sugere que a excessiva concentração de poderes regimentais e decisórios de pauta na presidência e colégio de líderes implica a adoção de um agir estratégico no bojo do processo legislativo, em detrimento da qualidade deliberativa inerente à democracia, que pode motivar controle jurisdicional de constitucionalidade em sua defesa.
REFERÊNCIAS
ANDRADE, Thais Machado de; COURA, Alexandre de Castro. O mito da representação política: do processo de representação política à construção dos direitos fundamentais: uma análise da atual situação representativa no Brasil. Revista da AGU, Brasília, v. 17, n. 04, 2018.
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 13ºed. São Paulo: Paz e Terra, 2015.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029/DF. Lei Federal nº 11.516/07. Criação do Instituto Chico mendes de Conservação da Biodiversidade. [...]. Requerente: Associação nacional dos Servidores do Ibama. Intimado: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Ministro Luiz Fux. Data de julgamento: 08 de março de 2012. Data de publicação: 27 de junho de 2012. Disponível em:< https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211240/false>. Acesso em 27 de jul. 2021.
BRASIL. Senado Federal. Parecer CCJ, de 04 de maio de 2012. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4165923&ts=1630422452972&disposition=inline. Acesso em: 14 de jul. de 2021.
BRASIL. Câmara de Deputados. Regimento Interno da Câmara de Deputados, 2021a. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2021-2021.pdf. Acesso em: 13 set. 2021.
BRASIL. Senado Federal. Regimento Interno do Senado Federal, 2021b. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/documents/12427/45868/RISF+2018+Volume+1.pdf/cd5769c8-46c5-4c8a-9af7-99be436b89c4. Acesso em: 13 set. 2021.
CARDOSO, Henrique Ribeiro. Proporcionalidade e argumentação: a teoria de Robert Alexy e seus pressupostos filosóficos. Curitiba: Juruá, 2009.
CARDOSO, Henrique Ribeiro. Controle da legitimidade da atividade normativa das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
CARNEIRO, Rommel Madeiro de Macedo. Fundamentos jurídicos e pedagógicos do Estado Democrático-Participativo e da globalização política. Revista da AGU, Brasília, nº 18. 2019.
CASSEB, Paulo Adib. Processo Legislativo – atuação das comissões permanentes e temporárias. São Paulo: RT, 2008.
CLÈVE, Clèmerson Merlin. Medidas Provisórias. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010.
DAHL, Robert A. Sobre a Democracia. Tradução Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2016.
DIAS, Maércio Herculano; MATTEDI, Milton Carlos Rocha. Representação política: uma análise da relação entre representantes e representados. Brasília: Revista da AGU, v. 14, n. 04, 2015.
FISHKIN, James S. Quando o povo fala: democracia deliberativa e consulta pública. Tradução Vitor Adriano Liebel. Curitiba: Instituto Atuação, 2015.
GANEM, Fabrício Faroni; ZETTEL, Bernardo. O modelo democrático-deliberativo à luz do pluralismo político. Revista da AGU, Brasília, n° 35. 2013.
GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Francisco Campos e a ilusão da técnica do Estado totalitário a serviço da democracia. A Constituição de 1937 e o Estado Novo. Revista da AGU, Brasília, v. 18, n. 02. 2019.
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, Vol. I. 2. ed.
Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
2003.
JUNG, Carl Gustav, 1875-1961. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 11ºed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
LUBENOW, Jorge Adriano. Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas: modelo teórico e discursos críticos. Kriterion Revista de Filosofia, Belo Horizonte, vol. 51, n. 121, 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/kr/i/2010.v51n121/. Acesso em: 11 set. 2021.
OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Processo Constitucional. 3ª ed. rev. e amp. Belo Horizonte: Fórum, 2016.
RIVIERA, Francisco Jair Uribe. Agir comunicativo e planejamento social: uma crítica ao enfoque estratégico. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1995. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 14 set. 2021.
ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Democracia, constituição e administração pública. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Ano 2, n.9. 2002. Disponível em:< http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/737>. Acesso em 16.08.2021.
SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: Teoria, História e Métodos de Trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2014.
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Deliberação pública, constitucionalismo e cooperação democrática. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 104143, 2007. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?
pdiCntd=39825>. Acesso em: 13 set. 2021.
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de Souza. Teoria Constitucional e democracia deliberativa: Um estudo sobre o papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
VARGAS, Daniel Barcelos. A democracia à meia-luz: uma crítica ao liberalismo constitucional de John Rawls e Jürgen Habermas. Direitos Fundamentais & Justiça, Belo Horizonte, ano 13, n. 40, p. 115-143, jan./jun. 2019.
VITULLO, Gabriel Eduardo. Teorias da democratização e democracia na Argentina contemporânea. Porto Alegre: Editora Sulina, 2007.
[1] Doutor em Direito, Estado e Cidadania (UGF/Rio), com Pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos (IGC-Universidade de Coimbra) e Pós-doutorado em Direitos Humanos e Desenvolvimento (PPGCJ/UFPB); Mestre em Direito, Estado e Cidadania (UGF/Rio); Professor do Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe (PRODIR/UFS) e do Programa de Pós-graduação da Universidade Tiradentes (PPGD/UNIT); Promotor de Justiça Titular da Fazenda Pública em Sergipe (MPS). Líder do Grupo de Pesquisa Constitucionalismo, Cidadania e Concretização de Políticas Públicas
[2] Doutorando e Mestre em Direitos Humanos na Universidade Tiradentes. Especialista em Direito Público na Universidade Norte do Paraná. Procurador Municipal e membro da Comissão de Estudos constitucionais OAB-SE.
[3] Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Direito Constitucional (Faculdade Damásio de Jesus) e em Direito Tributário (IBET). Advogado da União (categoria especial). Membro da Câmara Nacional de Sustentabilidade da Advocacia-Geral da União.
[4] O governo republicano, com natureza tipicamente temporária, pode ser aristocrático ou democrático. Enquanto o primeiro seria compreendido como o modelo dos ‘melhores’ participantes de uma classe dotada de privilégios, o segundo consiste no governo de todos, exercido direta, indireta ou semidireta, nesta última ocorrendo a junção entre os institutos da representação e participação (DIAS, MATTEDI, 2012, pp. 165-167).
[5] Os seguintes Senadores subscreveram o requerimento: Rose de Freitas (PODE/ES), Daniella Ribeiro (PP/PB), S Leila Barros (PSB/DF), Alessandro Vieira (PPS/SE), Maria do Carmo Alves (DEM/SE), Angelo Coronel (PSD/BA), Antonio Anastasia (PSDB/MG), Zenaide Maia (PROS/RN), Cid Gomes (PDT/CE), Dário Berger (MDB/SC), Eduardo Girão (PODE/CE), Elmano Férrer (PODE/PI), Esperidião Amin (PP/SC), Flávio Arns (REDE/PR), Izalci Lucas (PSDB/DF), Jayme Campos (DEM/MT), Lasier Martins (PODE/RS), Lucas Barreto (PSD/AP), Luis Carlos Heinze (PP/RS), Marcelo Castro (MDB/PI), Marcio Bittar (MDB/AC), Marcos do Val (PPS/ES), Marcos Rogério (DEM/RO), Paulo Paim (PT/RS), Paulo Rocha (PT/PA), Randolfe Rodrigues (REDE/AP), Zequinha Marinho (PSC/PA).
[6] A propósito, a concentração de poder na Presidência das Casas Legislativas tem sido objeto de intensa discussão no contexto da instauração do processo de impeachment de autoridades (Presidente da República, Ministros do STF etc.). A título de exemplo, a ADPF nº 867, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), postula a interpretação conforme à Constituição do art. 19, primeira parte, da Lei nº 1.079/1950, no sentido de fixar a tese de que à luz dos preceitos do direito de petição e do dever de motivação, cumpre ao Presidente da Câmara dos Deputados decidir motivadamente, em prazo razoável, acerca do seguimento ou arquivamento de denúncia em crime de responsabilidade, apresentada nos termos dos arts. 14 e seguintes da referida Lei.
[7] Balizada doutrina é clara no sentido de pleno controle de constitucionalidade do devido processo legislativo, em especial visando assegurar a observância das balizas democráticas (CLÈVE, 2010, pp. 178-180). Cabe ao Poder judiciário decretar a inconstitucionalidade de normas do congresso nacional que desrespeitem a constituição, em atuação que contribuirá para saúde da democracia nas quais as normas são frutos de verdadeira discussão (CASSEB, 2008, p. 285).
[8] A título de exemplo, confira-se o prazo transcorrido, na Câmara dos deputados, entre a determinação da criação de comissão especial (11.05.2005) e sua efetiva instalação (30.11.2009). É dizer, uma relevante proposição relativa à integridade institucional ficou parada simplesmente em decorrência de mera omissão individual dos Presidentes da Câmara, que deixaram de indicar os respectivos integrantes.
[9] Joshua Cohen pontua enquanto condições que informam o modelo democrático deliberativo dotado de procedimento capaz de alcançar o bem comum em contexto de respeito à autonomia entre os envolvidos no debate: a) associação contínua por tempo indeterminado; b) acordo no tocante às regras da discussão; c) união pluralista de interesses diversos; d) a relação associativa necessita ser a expressão do resultado da deliberação; d) reconhecimento do outro como pessoa capaz de deliberar e participar do debate de forma racional e atuar de acordo com o respectivo resultado da discussão (GANEM; ZETTEL, 2013, p. 151).
[10] A definição de Abraham Lincoln acerca do regime democrático encontra-se centrada na expressão “pelo povo”, a maneira de implantação do regime. De igual modo, a existência de um Estado Democrático pressupõe “um modo específico e peculiar de se conceber o poder, uma estrutura social e a mesma dinâmica do sistema político, além do que se mostra imperiosa uma democracia enquanto norma, enquanto princípio de convivência” (CARNEIRO, 2019, p. 172).
[11] Quiçá essa concentração de poder decorra da própria formação da representação política brasileira. A propósito, Andrade e Coura (2018, p. 295) registram que a “representação política no Brasil é constituída culturalmente como fonte estrutural de aquisição do poder, dado que se reproduz em todas as instâncias e sem a concepção de que as atividades a serem promovidas pelo Estado devem garantir a efetivação do bem público e do bem-estar público”.
[12] Uma das suas premissas do pensamento habermasiano é a de que a legitimidade do Direito, nas sociedades plurais contemporâneas, não tem como se fundar em qualquer concepção material, de modo que a fonte de legitimidade só pode repousar no processo democrático de produção normativa (SARMENTO; SOUZA NETO, 2014, p. 222).
[13] O princípio democrático do discurso (ou princípio da democracia) é uma especificação das normas de ação (normas morais ou jurídicas) que surgem na forma do direito e que podem ser justificadas com o auxílio de argumentos pragmáticos, ético-políticos e morais (CARDOSO, 2010, p. 311)
[14] O inconsciente coletivo seria uma parcela da psique que se distingue do inconsciente pessoal na medida em que não deve sua origem à experiência de vida individual, a uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal decorre de conteúdos que foram anteriormente conscientes que se transmudaram para inconscientes por terem sido esquecidos ou reprimidos, os do coletivo devem sua existência apenas à hereditariedade. O inconsciente pessoal decorre, na maior parcela de complexos, já o coletivo se baseia em arquétipos (JUNG, 2014, p. 51). O arquétipo, enquanto elemento indispensável da ideia do inconsciente coletivo, “indica a existência de determinadas formas na psique, que estão presentes em todo o tempo e em todo lugar. A pesquisa mitológica denomina-as ‘motivos’ ou ‘temas’ (...) Adolf Bastian designou-as bem antes como ‘pensamentos elementares’ ou ‘primordiais’” (JUNG, 2014, p. 52). Assim, pode-se definir arquétipos como paradigmas inconscientes que passam entre as gerações, portanto como fundamento cultural, de sorte que podem constituir, entre outros fatores, influências nas posturas dos sujeitos, podendo de igual sorte constituir fator de controle popular inconsciente, pelo hábito cultural, conjunto de práticas reiteradas por determinada sociedade, que passam entre gerações.
[15] Nos termos da Carta da República (artigo 57, §§4º e 5º) e pertinentes normas do RICD e RISF, os ocupantes das mesas diretoras, em especial os presidentes eleitos. Nos termos do regimento interno, também detém poder de decisão a Presidência e o Colégio de Líderes. Segundo Carmen Lúcia, a “Administração Pública somente é democrática (ou será, no caso brasileiro) quando contar com administrados tão democraticamente atuantes quanto sejam os interesses por eles buscados para o benefício de todos e não apenas de uns poucos e eternamente beneficiários privilegiados da coisa pública, que se vem particularizando e sendo tratada tão ineficientemente em detrimento dos que dela mais precisam desde os primeiros momentos da colonização, inda hoje não superada” (ROCHA, 2002, p. 97)
[16] A exemplo do que foi feito por Francisco Campos quando da instituição da Carta de 1937, que outorgou o respectivo exercício normativo a outro Poder, com base numa suposta incapacidade de legislar (GODOY, 2019, p. 29).
Este é um espaço de debate e manifestação para os associados publicarem artigos. Os textos expressam a opinião de seus autores e não a posição institucional da ANPM.
Envie seu artigo para [email protected].